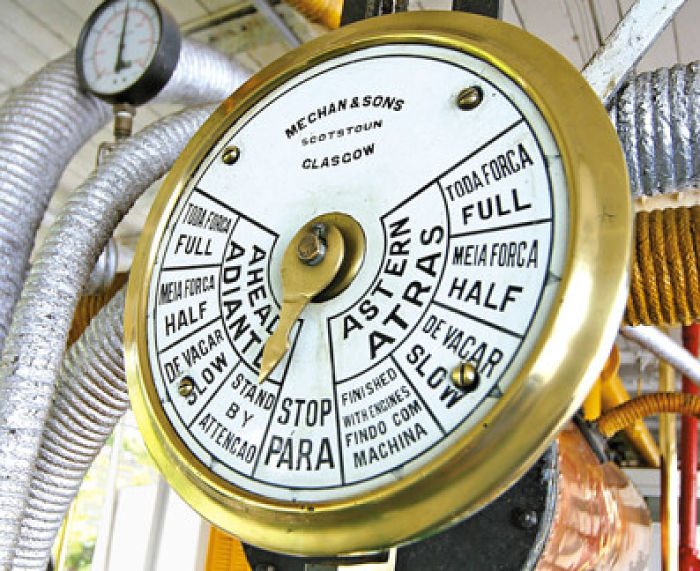Postado em Artigos Por Rudi Cassel Em 16 janeiro, 2017
Nova previdência que se quer impingir aos servidores é inconstitucional e viola vários direitos
A Constituição Federal foi promulgada em 1988. De lá para cá, o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público (RPPS) previsto em seu artigo 40 foi modificado seis vezes. A primeira mudança veio pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993, enquanto as reformas mais importantes foram as mediadas pelas Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41. Não suficiente, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 287, protocolada em 5 de dezembro de 2016, pretende realizar a modificação mais radical até aqui idealizada. Mais que uma reforma, estabelece uma nova previdência para servidores. O que a substituirá, no futuro, é algo que somente a certeza sobre o tipo de Estado que se deseja responderá. A proposta viola o direito – em exercício – a regras de transição, o ato jurídico perfeito, a vedação ao retrocesso social, o caráter contributivo e a exigência de fundamentação atuarial.
As sucessivas alterações previdenciárias refletem algo mais grave, ligado ao retrocesso de institutos incorporados ao Estado de Direito, no decorrer da matriz liberal-social-democrática que sucedeu ao absolutismo monárquico. No caso brasileiro, a Constituição andou mais rápida que a realidade, retrocedendo antes de concretizar seus desejos originais.
Em paralelo, as apostas econômicas dominantes se recusam a dialogar com alternativas para que a vida de todos melhore, conduta turbinada pela apatia das ideologias de esquerda, supostamente aniquiladas pela queda de determinados Estados e o consequente fim da História.
O resultado da redução gradativa dos institutos sociais do Estado de Direito é sensível, ameaçando a previdência, o trabalho e a sobrevivência daqueles que não alcançarem os requisitos exigidos, progressivamente mais difíceis de serem atingidos.
Em 1988, o tempo de serviço se sobrepunha à exigência de idade mínima no serviço público, até então desnecessária. Incluída a idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos de idade para a mulher, passou-se a se exigir também o tempo de contribuição de 35 e 30 anos, respectivamente, tudo a partir da EC nº 20, de 1998. Na oportunidade, aos servidores que estavam no regime foram exigidos pedágios para manterem aposentadorias e pensões na forma proporcional ou integral. Ao futuro, permitiu-se a criação da previdência complementar.
Cinco anos depois, a EC nº 41, de 2003, alterou os critérios de cálculo das aposentadorias e das pensões, com graves prejuízos, como a perda da paridade e o cálculo pela média remuneratória. Aos trabalhadores antigos foram criadas regras de transição com acréscimo de requisitos distribuídos entre idade mínima, tempo de contribuição e carências no serviço público, na carreira e no cargo, para a manutenção de algumas garantias. Aos novos, que ingressaram após a instituição do regime complementar sobrevindo em 2013, o teto de benefício passou a ser o mesmo do Regime Geral de Previdência Social.
Diante de algumas arestas, em 2005, 2012 e 2015 foram realizadas alterações pontuais, seguidas pelas constantes reclamações dos governos e dos meios de comunicação de massa, sincronizadas sobre o suposto défict previdenciário (matéria de muitas divergências e abordagens que apresentam superávit pela seguridade), em nítida preferência aos planos privados de benefício, administrados por instituições financeiras que – há tempos – desejam tais investimentos.
Não por acaso, os noticiários atuais dedicam longo tempo à propaganda e orientação sobre a escolha entre múltiplos produtos de seguridade social, ofertados pelos bancos. Trata-se da migração do regime de repartição para o de capitalização; migração parcial, por enquanto.
A evidência de que se deseja uma solução menos social à previdência veio com a PEC 287, que afeta todos os servidores, estabelecendo nova transição apenas aos trabalhadores com idade igual ou superior 50 (homens) e 45 (mulheres) anos. Se aprovada a proposta, praticamente tudo o que se conhece por requisitos e critérios para aposentadorias e pensões será alterado. A idade mínima para homens e mulheres passará a 65 anos, o tempo de contribuição mínimomudará para 25 anos e o patamar inicial dos proventos da aposentadoria será de 51% da média da remuneração contributiva, acrescido de 1% por ano considerado no cálculo. Aqui, um servidor com 65 anos de idade e 35 anos de contribuição receberá 86% (51 + 35) da média, enquanto uma servidora com 65 anos de idade e 30 anos de contribuição receberá 81% (51 + 30) da média. Requisitos de idade e tempo foram equiparados em suas consequências para homens e mulheres, o que significa que ambos precisam trabalhar 49 anos (recolhendo contribuição previdenciária) se desejarem 100% da média remuneratória. Para fecharem 49 anos de contribuição aos 65 anos de idade, devem começar aos 16 anos.
As regras de transição anteriores serão extintas. Os servidores estarão sujeitos às novas regras, salvo aqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para tanto antes da publicação da nova emenda. Os servidores com idade igual ou superior a 50 (homem) e 45 (mulher) anos serão submetidos a uma nova transição que exige 50% a mais de tempo contributivo restante. A esse grupo, somente aqueles que ingressaram até 31/12/2003 ainda teriam alguma possibilidade de manter paridade e integralidade (sem média), desde que trabalhem 50% a mais do que faltar para o tempo de contribuição de 35 (homem) e 30 (mulher) anos e atinjam, respectivamente, 60 e 55 anos de idade, além de carências no serviço público, na carreira e no cargo.
O teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social se estenderá a todos que ingressaram antes do Regime de Previdência Complementar e não integrarem o seleto grupo mencionado no parágrafo acima. Se desejarem receber mais, terão que optar pelo complemento de contribuição para algum regime de capitalização (Funpresp ou outras instituições que ofereçam planos de previdência complementar).
Regimes de capitalização são de contribuição (não de benefício) definida e investem no mercado financeiro, realimentando o que resta de esperança no modelo econômico vigente, sujeito a ciclos de recessão indesejáveis e reiterados, com pequenos intervalos entre um e outro. Na capitalização, sabe-se o valor da contribuição, mas não se sabe qual será seu resultado.
Aos pensionistas, aplicar-se-á a regra da metade mais 10% por dependente, limitada ao valor da aposentadoria a que o servidor teve ou teria direito. Em outras palavras: na morte do instituidor da pensão, o cônjuge recebe 50% do que teria direito o servidor e se tiver dois filhos na condição de dependentes, cada um recebe 10% até que se tornem maiores.
As aposentadorias especiais dos policiais e daqueles beneficiados pela Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal serão modificadas, submetendo seus destinatários a regras bem menos interessantes. No exemplo do policial, permite-se que se aposente com redução de até 10 anos no requisito de idade (55 anos) e redução de até 5 anos no tempo de contribuição (20 anos). No entanto, o cálculo será de 51% da média remuneratória (sem paridade). Ao que tudo indica, os proventos de aposentadoria seriam reduzidos a 71% da média, algo bem inferior ao que pensavam representar a aposentadoria especial na sistemática da Lei Complementar 51, de 1985. A ausência de paridade significa que os proventos da aposentadoria não serão reajustados na mesma proporção dos servidores em atividade, seguindo a mesma sistemática de correção dos benefícios do RGPS, administrados pelo INSS.
A aposentadoria por invalidez deixa de existir e, em seu lugar, o artigo 40 da Constituição passará a prever a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho (que não admita readaptação), garantindo 100% da média remuneratória somente no caso de acidente de serviço. Nos demais casos, vale a regra de 51% da média, mais 1% por ano contributivo. Justamente por isso, a compulsória aos 75 anos de idade foi remodelada para pior. A aposentadoria por idade foi extinta.
Há vários aspectos de aparente, senão evidente, inconstitucionalidade na proposta. Em primeiro lugar, viola-se o direito a regras de transição específicas trazidas pelas Emendas 41 e 47, com destinatários determinados, que iniciaram o exercício do direito no momento da publicação das emendas. Não foram regras gerais, mas de proteção específica que incidiram sobre todos os que ingressaram até 31/12/2003 (sem contar a dupla proteção aos que ingressaram até 16/12/1998). A transição estabelecida não conferiu expectativa, mas exercício imediato de direito que não pode ser alterado 13 anos depois, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição.
A vedação ao retrocesso social, princípio de particular importância nos direitos previdenciários, foi abandonado, como se nada representasse. O ato jurídico perfeito constituído para os servidores que preencheram o requisito exigido pelo “contrato” constitucional (o Estado garante, desde que), ou seja, terem ingressado até 31/12/2003, é conjugado com o direito adquirido e ambos têm a proteção constitucional, não podendo ser alterados.
Para piorar, o desrespeito ao caráter contributivo do regime (consequentemente, retributivo) se une à ausência de demonstração atuarial incontroversa da necessidade das mudanças, convergindo para o confisco tributário e remuneratório dos servidores públicos.
Há muitos argumentos que podem ser levantados contra a PEC 287, essenciais à segurança jurídica. Se, em nome de flutuações econômicas (ou pretensamente econômicas), tudo é possível, desestruturam-se os elementos que conferem legitimidade às instituições e conformam a cidadania. O risco de ruptura não é apenas do serviço público, mas do Estado que se acredita democrático e de direito.
Por Rudi Cassel, advogado especialista em Direito do Servidor Público.
Fonte: http://www.blogservidorlegal.com.br/nova-previdencia-do-servidor-publico-viola-diversos-direitos-e-e-inconstitucional/